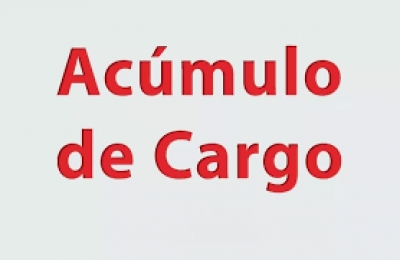A comunicação da venda de veículos usados ao órgão de trânsito local à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça
Written by Villar Maia Advocacia e ConsultoriaDe acordo com dados da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto), o mercado de veículos usados cresceu 1,4% no primeiro trimestre de 2018.
É inegável que milhares de compras e vendas de carros usados são efetivadas em todo o território nacional, sejam as vendas entre particulares, sejam as operações realizadas perante as empresas que comercializam veículos seminovos.
Sob a perspectiva de uma maior proteção jurídica, como deve proceder o vendedor ao efetuar a venda do seu veículo usado? Para os fins do presente artigo, pode-se afirmar que a principal medida a ser adotada consiste na imediata comunicação da venda ao órgão de trânsito local.
A medida em questão (comunicação da venda ao órgão de trânsito local) tem o condão de impedir que o vendedor seja responsabilizado por infrações cometidas pelo comprador, nos termos do disposto no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
O que fazer, porém, se o vendedor esquecer de adotar a medida em questão e o comprador praticar infrações antes da efetiva comunicação da operação (compra e venda) ao órgão de trânsito local?
A prevalecer o disposto no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, o vendedor será responsável, solidariamente com o comprador, pelas penalidades impostas até a data da comunicação da operação ao órgão de trânsito local.
Assim não pensa, porém, o Superior Tribunal de Justiça.
Em recente decisão, reproduzida no sistema eletrônico de “Jurisprudência em Teses” deste tribunal superior, restou assentado que a regra do art. 134 do CTB será relativizada “quando ficar comprovada que a efetiva transferência da propriedade do veículo ocorreu antes dos fatos geradores das infrações de trânsito, mesmo que não tenha havido comunicação da tradição ao órgão competente”.
Assim, comprovando o vendedor que a transferência da propriedade do veículo ocorreu antes dos fatos que geraram as penalidades, ainda que não tenha havido a comunicação da venda do veículo perante o órgão de trânsito local, tais penalidades serão imputadas exclusivamente ao comprador.
Parabéns aos servidores pelo seu dia.
Written by Villar Maia Advocacia e ConsultoriaO STJ e o direito real de habitação do cônjuge sobrevivente
Written by Villar Maia Advocacia e ConsultoriaO Código Civil de 2002, como decorrência da preocupação do legislador com o valor fundamental da dignidade da pessoa humana, protege o cônjuge sobrevivente (em caso de falecimento do seu consorte) por meio de determinados institutos jurídicos.
Dentre os mencionados institutos jurídicos protetivos ao cônjuge sobrevivente figura o direito real de habitação, previsto no artigo 1.831 do Código Civil, que assim dispõe: “ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar”.
Em outras palavras, se o cônjuge falecido possuía apenas um imóvel, que era destinado à residência da família (ainda que possuísse outros bens móveis a serem objeto de inventário), o cônjuge sobrevivente é titular do direito real de habitação sobre o imóvel em questão.
Assim, em razão do direito real de habitação, o cônjuge sobrevivente poderá residir do imóvel durante toda a sua vida, não podendo, porém, alugá-lo ou emprestá-lo a terceiros, devendo utilizar o imóvel em questão exclusivamente para ocupa-lo com a sua família, nos termos do art. 1.414 do Código Civil.
Discute-se, porém, se o cônjuge sobrevivente, que já possua em seu patrimônio pessoal outros bens imóveis, também faria jus ao direito real de habitação em caso de falecimento do seu consorte.
O tema em questão aportou no Superior Tribunal de Justiça, tendo este órgão superior da justiça decidido que o direito real de habitação “não pressupõe a inexistência de outros bens no patrimônio do cônjuge/companheiro sobrevivente.”
De acordo com a orientação do STJ, o Código Civil objetivou garantir que o cônjuge sobrevivente permaneça residindo no mesmo imóvel familiar, no qual residia com o consorte falecido, em razão do vínculo afetivo que mantém com o imóvel em questão, em nada se relacionando que a existência (ou inexistência) de outros imóveis no patrimônio do cônjuge sobrevivente.
Processo de referência: REsp 1.582.178-RJ.
O STJ e o prazo de manutenção do nome de consumidores nos cadastros de restrição ao crédito
Written by Villar Maia Advocacia e ConsultoriaA crise econômica que atinge o Brasil culminou com efeitos negativos em diversos setores do mercado, dentre os quais destaca-se um aumento substancial do número de consumidores inadimplentes.
Para recuperar o crédito inadimplido, os fornecedores de bens e serviços se valem dos instrumentos de cobranças previstos na legislação, a exemplo das ações de cobrança, ações de execução e, no âmbito extrajudicial, a inclusão do nome do consumidor inadimplente nos cadastros de restrição ao crédito (os denominados “cadastros de negativação”, tais como o SPC e o SERASA).
A respeito do tema, o Código de Defesa do Consumidor estatui que os cadastros de restrição ao crédito devem ser objetivos, claros e verdadeiros, “não podendo conter informações negativas referentes a período superior a 5 anos” (art. 43, § 1º, do CDC).
Como se vê, a negativação de um dado consumidor, por um certo débito não adimplido, não poderá perdurar por prazo superior a 5 anos.
A dúvida que se põe, a esse respeito, é a seguinte: qual é o marco inicial de contagem do prazo de 5 anos? O prazo em questão deve ser contado a partir da negativação ou a partir do vencimento da dívida que gerou a inclusão do nome do devedor no “cadastro de negativação”?
Debruçando-se sobre a referida indagação, o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento segundo o qual “o termo inicial do prazo máximo de cinco anos que o nome de devedor pode ficar inscrito em órgão de proteção ao crédito é o dia seguinte à data de vencimento da dívida”.
Assim, para o STJ, o prazo de 5 anos, durante o qual o nome do devedor poderá estar inscrito em cadastro de restrição ao crédito, conta-se a partir do dia seguinte ao vencimento da dívida (fato gerador da negativação).
Processo: REsp 1.630.889-DF
Responsabilidade contratual e prescrição: uma análise à luz da jurisprudência do STJ
Written by Villar Maia Advocacia e ConsultoriaAo disciplinar os prazos prescricionais, o Código Civil brasileiro preceitua, em seu artigo 206, § 3º, V, que a pretensão de reparação civil prescreve em 03 (três) anos. A base normativa em questão foi utilizada para sustentar, durante muito tempo, que a pretensão oriunda de descumprimento contratual (responsabilidade contratual) possuiria prazo prescricional de 03 (três) anos.
De outro lado, porém, corrente doutrinária e jurisprudencial inclinava-se no sentido de afirmar que o prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, não se aplicaria à pretensão lastreada em responsabilidade contratual, devendo-se aplicar na espécie o prazo prescricional de 10 (dez) anos insculpido no art. 205 do mesmo diploma legal (prescrição decenal).
A celeuma em questão aportou recentemente no Superior Tribunal de Justiça.
Ao se debruçar sobre a matéria em questão, o STJ realizou distinção entre os prazos prescricionais a serem aplicados para as pretensões decorrentes de responsabilidade contratual (por descumprimento de um contrato) e responsabilidade extracontratual (sendo esta última configurada nas hipóteses em que não haja relação contratual entre as partes).
Fixada a referida distinção de regimes jurídicos, o Superior Tribunal de Justiça, considerando que, nos casos de responsabilidade contratual há uma relação prévia entre as partes, em cujo curso existe uma predisposição em evitar o ajuizamento de ações judiciais em face de descumprimento de determinadas cláusulas do contrato (a fim de evitar a ruptura da relação já estabelecida), concluiu que o prazo prescricional a ser aplicado para as pretensões fundadas em descumprimento de contrato é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil.
Para o STJ, uma vez verificado o descumprimento contratual por uma das partes, a parte prejudicada “poderá exigir tanto a execução específica como o pagamento por perdas e danos, pelo prazo de dez anos. Da mesma forma, diante do inadimplemento definitivo, o credor poderá exigir a execução pelo equivalente ou a resolução contratual e, em ambos os casos, o pagamento de indenização que lhe for devida, igualmente pelo prazo de dez anos. Por observância à lógica e à coerência, portanto, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados”.
Processos de referência: EREsp 1.280.825-RJ e EREsp 1.280.825-RJ.
A acumulação de cargos públicos, o STJ e o STF
Written by Villar Maia Advocacia e ConsultoriaO artigo 37, XVI, da Constituição Federal, estabeleceu como regra a proibição de acumulação remunerada de cargos públicos, excepcionando, porém, respeitada a compatibilidade de horários, os seguintes casos: (i) dois cargos de professor; (ii) um cargo de professor com outro técnico ou científico; (iii) dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissão regulamentada.
Observa-se que, à luz do texto expresso da Constituição Federal, inexiste qualquer limite de carga horária a ser desempenhada pelos servidores que exerçam de forma remunerada mais de um cargo público, exigindo o Texto Maior apenas que o servidor enquadre-se em um dos três casos anteriormente referidos.
Sucede que o Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que o servidor público deve gozar de boas condições físicas e mentais, entendeu legítimo o requisito previsto em norma infraconstitucional segundo o qual os profissionais da área de saúde que a acumulam mais de um cargo público não podem exercer jornada de trabalho superior a 60 horas semanais.
O Supremo Tribunal Federal, porém, partindo do pressuposto de que a Constituição Federal não estabelece a aludida limitação de carga horaria, manteve posicionamento no sentido de que a acumulação de cargos por profissionais de saúde não se sujeita ao limite de 60 horas semanais
Diante da orientação preconizada pelo Supremo Tribunal Federal – intérprete último da Constituição Federal, o Superior Tribunal decidiu que “a acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais”.
Com a adequação da jurisprudência do STJ à orientação do Supremo Tribunal Federal, fica superada a divergência anteriormente verificada entre os tribunais superiores, sendo certo, desse modo, que o acúmulo de cargos públicos não se sujeita ao limite de 60 horas semanais.
Processo de referência: REsp 1.746.784-PE.
Contrato de locação de imóveis e efeitos da venda do imóvel locado
Written by Villar Maia Advocacia e ConsultoriaA locação de bens imóveis, para além do seu papel econômico no âmbito das locações comerciais, constitui um importante mecanismo que viabiliza à sociedade o acesso à moradia, constituindo fato público e notório que grande parte da população utiliza-se das locações residenciais para o estabelecimento de moradia.
Nesse contexto, a Lei 8.245/1991 disciplina as locações de imóveis urbanos e, com esse desiderato, estabelece o regramento de aspectos fundamentais deste instituto jurídico, a exemplo dos prazos de locação, valores e reajustes de alugueis, renovação contratual, dentre outros.
Digno de destaque é o regramento contido artigo 8º do diploma legal em questão, segundo o qual “se o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente poderá denunciar o contrato, com o prazo de noventa dias para a desocupação, salvo se a locação for por tempo determinado e o contrato contiver cláusula de vigência em caso de alienação e estiver averbado junto à matrícula do imóvel”.
O dispositivo reproduzido consubstancia um importante mecanismo de proteção ao locatário, permitindo-lhe fazer valer o contrato de locação, na hipótese de venda do imóvel locado, em face do respectivo comprador.
Para tanto, exige a lei o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) o contrato de locação deve ser por prazo determinado; (ii) o contrato de locação deve conter cláusula que estabelece a manutenção de sua vigência em caso de venda do imóvel; (iii) o contrato de locação deverá ser averbado no cartório de registro de imóveis (junto à matrícula do imóvel).
Figure-se, hipoteticamente, que o primeiro e o segundo requisitos estejam preenchidos, não estando, porém, o contrato averbado junto à matrícula do imóvel, mas sendo certo que o adquirente possui ciência da existência do contrato de locação. Tendo por base essa situação hipotética, poderá o locatário fazer valer o contrato de locação em face do comprador do imóvel? Para o STJ, a resposta é negativa.
De acordo com a orientação do STJ, “a averbação do contrato com cláusula de vigência no registro de imóveis é imprescindível para que a locação possa ser oposta ao adquirente”.
Como se vê, deve o locatário providenciar a averbação do contrato de locação na matrícula do imóvel, sob pena de não poder fazer valer o contrato em face do comprador do imóvel locado.
Processo de referência: REsp 1.669.612-RJ.
Planos de saúde e tratamentos “off label”: o que diz o STJ sobre o assunto
Written by Villar Maia Advocacia e ConsultoriaO presente texto possui por base a seguinte situação frequentemente verificada no dia-a-dia da sociedade: determinado paciente, usuário de plano de assistência à saúde, requer ao plano de saúde a cobertura para um tratamento prescrito pelo seu médico assistente, recebendo resposta negativa sob o fundamento de que a utilização do tratamento encontra-se em dissonância com a indicações prescritas na bula do medicamento ou no manual registrado na ANVISA.
Trata-se do chamado “uso off label”, ou seja, o uso do medicamento ou tratamento de forma diversa ao que consta na bula do medicamento.
Afigura-se legítima a negativa levada a efeito pela operadora de plano de saúde, visto que o tratamento está sendo ministrado em contrariedade ao previsto na bula do medicamento? Essa foi a questão submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça.
Para o Superior Tribunal de Justiça, “a operadora de plano de saúde não pode negar o fornecimento de tratamento prescrito pelo médico, sob o pretexto de que a sua utilização em favor do paciente está fora das indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label)”.
A referida orientação perfilha a esteira da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual incumbe ao médico assistente definir o melhor tratamento para a enfermidade do paciente, não cabendo à operadora de plano de saúde imiscuir-se na escolha da terapia a ser adotada.
Em arremate, concluiu o Superior Tribunal de Justiça, a esse respeito, que “a ingerência da operadora, além de não ter fundamento na Lei n. 9.656/98, constitui ação iníqua e abusiva na relação contratual, e coloca concretamente o consumidor em desvantagem exagerada”.
Processo de referência: REsp 1.721.705-SP.
Relação médico-paciente e o dever de informação adequada
Written by Villar Maia Advocacia e ConsultoriaA evolução da teoria contratual, lastreada em seus primórdios no primado do liberalismo econômico e fundada no princípio do pacta sunt servanda, alcançou hodiernamente a incorporação de valores sociais aos preceitos que disciplinam os contratos, podendo-se falar em uma verdadeira teoria social dos contratos, cujos maiores expoentes são os princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos.
De acordo com o princípio da boa-fé objetiva, os deveres contratuais não se limitam apenas ao que está previsto nas cláusulas do contrato escrito, estando as partes contratantes vinculadas à observância de deveres laterais – oriundos da boa-fé objetiva, os quais obrigam as partes ainda que não estejam previstos expressamente no instrumento assinado.
Dentre os deveres laterais oriundos da boa-fé objetiva, sobreleva destacar, para os fins do presente texto, o dever de informação, ao qual encontram-se vinculados todos os sujeitos contratuais, independentemente da existência de cláusula contratual expressa a esse respeito.
No âmbito dos contratos firmados nas relações de consumo, prevê o Código de Defesa do Consumidor que a informação clara e adequada a respeito dos produtos e serviços constitui um direito do consumidor (art. 6º, III, do CDC).
O dever de informação é ainda mais potencializado no contexto das relações médicas, devendo o profissional médico prestar todas as informações necessárias para que o paciente tenha condições de prestar o seu consentimento quanto ao tratamento a ser adotado. O direito do paciente a ser suficientemente informado, para que possa prestar o seu consentimento ao tratamento indicado, constitui uma decorrência necessária do direito à autodeterminação dos indivíduos.
Essa foi a orientação do STJ, ao decidir que “a inobservância do dever de informar e de obter o consentimento informado do paciente viola o direito à autodeterminação e caracteriza responsabilidade extracontratual”.
Assim, não tendo o profissional médico observado o dever de informação relativamente ao tratamento preconizado, caberá na espécie a sua responsabilização pelos danos experimentados pelo consumidor-paciente.
De acordo com a referida decisão do Superior Tribunal de Justiça, “pelos critérios tradicionais dos regimes de responsabilidade civil, a violação dos deveres informativos dos médicos seria caracterizada como responsabilidade extracontratual”.
Processo de referência: REsp 1.540.580-DF
Obrigação imputada ao condomínio e os seus efeitos sobre as unidades autônomas pertencentes aos condôminos
Written by Villar Maia Advocacia e ConsultoriaFigure-se, exemplificativamente, a seguinte situação hipotética: determinado condomínio predial, diante da sua má conservação (queda de parte da faixada, por exemplo), causa danos a um terceiro. A vítima aciona a justiça e, ao esbarrar na realidade de que o condomínio não possui patrimônio próprio para suportar o débito, requer a penhora de uma unidade autônoma, localizada no mesmo condomínio e pertencente a determinado condômino.
Indaga-se: poderá o Judiciário determinar a penhora da unidade autônoma do condômino para garantir o pagamento do débito decorrente de condenação judicial imposta ao condomínio? Para o Superior Tribunal de Justiça, a resposta é positiva.
Ao se debruçar sobre o tema em questão, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “é possível a penhora de bem de família de condômino, na proporção de sua fração ideal, se inexistente patrimônio próprio do condomínio, para responder por dívida oriunda de danos a terceiros”.
A referida decisão decorre basicamente da natureza específica das obrigações condominiais, as quais são qualificadas como obrigações proter rem, ou seja, um vínculo obrigacional que liga-se intrinsecamente à determinado bem, responsabilizando o seu respectivo proprietário.
No entender da aludida Corte Superior, “as despesas condominiais, inclusive as decorrentes de decisões judiciais, são obrigações propter rem e, por isso, será responsável pelo seu pagamento, na proporção de sua fração ideal, aquele que detém a qualidade de proprietário da unidade imobiliária ou seja titular de um dos aspectos da propriedade (posse, gozo, fruição), desde que tenha estabelecido relação jurídica direta com o condomínio, ainda que a dívida seja anterior à aquisição do imóvel”.
Finalmente, importa ressaltar que a penhora em questão será realizada ainda que a unidade autônoma do condômino constitua “bem de família”, visto que, a teor do que dispõe a Lei 8.009/90, o bem de família responde pelas despesas de condomínio.
Processo de referência: REsp 1.473.484-RS
More...
O STJ e a (im)possibilidade de apreensão de passaporte como medida executiva para cumprimento de ordens judiciais
Written by Villar Maia Advocacia e ConsultoriaDe acordo com o disposto no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, incumbe ao juiz, na direção do processo, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
Ao assim dispor, o legislador reformista do diploma processual civil estabeleceu expressamente o princípio da atipicidadedas técnicas (ou medidas) executivas, de modo que caberá ao juiz, de acordo com as especificidades do caso concreto, determinar a medida judicial que se afigure mais adequada para assegurar o cumprimento das ordens judiciais, ainda que se trate de ações que tenham por objeto o cumprimento de obrigações pecuniárias.
E é nesse contexto de atipicidadedas medidas de execução das ordens judiciais que se sobressai o poder criativo dos juízes, sendo dignas de destaque, a esse respeito, as determinações judiciais que ordenam o bloqueio de cartões de crédito ou a suspensão da carteira nacional de habilitação do devedor como forma de compeli-lo ao cumprimento de ordens judiciais.
Nessa linha de argumentação, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que as medidas executivas que não se afigurem estritamente necessárias serão consideradas contrárias à ordem jurídica. Com base nessa fundamentação, o STJ já considerou ilegal, em determinado caso concreto, a retenção de passaporte de um devedor, afirmando, porém, que “o reconhecimento da ilegalidade da medida consistente na apreensão do passaporte do paciente, na hipótese em apreço, não tem qualquer pretensão em afirmar a impossibilidade dessa providência coercitiva em outros casos e de maneira genérica.
Como se vê, o magistrado deverá exercer um criterioso juízo de ponderação ao eleger as medidas judiciais necessárias à efetivação das ordens judiciais, devendo sempre nortear-se no respeito aos direitos fundamentais individuais, sendo certo que as circunstâncias de cada caso concreto irão determinar a legalidade ou ilegalidade da medida executiva adotada.
Processo de referência: RHC 97.876-SP
Aumento de gratificações e reajuste geral anual: análise da jurisprudência do STJ à luz do caso dos policiais rodoviários federais
Written by Villar Maia Advocacia e ConsultoriaO presente texto debruça-se sobre a seguinte indagação, para a qual a Primeira e a Segunda Turmas do Superior Tribunal de Justiça apresentaram respostas diferentes: a Lei 9.654/98, que dispõe sobre a carreira de Policial Rodoviário Federal, reestruturou a carreira em questão, de modo a determinar a compensação do reajuste geral de 28,86%, concedido pelas Leis nº. 8.622/93 e 8.627/93?
Ao dirimir a divergência jurisprudencial havida entre a Primeira e a Segunda Turmas, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu que “o reajuste geral de 28,86%, concedido pelas Leis n. 8.622/1993 e 8.627/1993, não pode ser compensado pelas novas gratificações criadas pela Lei n. 9.654/1998”.
Ao assim decidir, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o reajuste de 28,86% fundamenta-se na garantia constitucional que concede ao servidor público o direito à revisão geral anual, de modo que, ao aumentar o valor das gratificaçõespercebidas pelo policiais rodoviários federais, a Lei 9.654/98, que não majorou o vencimento básico dessa carreira, não tem o condão de ensejar a compensação do mencionado acréscimo remuneratório com o reajuste de 28,86% decorrente das leis n. 8.622/1993 e 8.627/1993.
Para o STJ, o reajuste geral operado no ano de 1993 (leis n. 8.622/1993 e 8.627/1993) consolidou-se no patrimônio jurídico dos servidores, não podendo ser posteriormente suprimido por uma legislação que aumentou unicamente o valor de gratificações.
Em arremate, o referido Tribunal Superior assentou que, “diferentemente, uma futura reestruturação da remuneração de determinada categoria poderia, ao tratar em novas bases a remuneração da categoria, fazer com que não houvesse mais que se falar naquele reajuste ocorrido a partir das leis n. 8.622/1993 e 8.627/1993. Deste modo, no caso da lei n. 9.654/1998, o que se viu não foi uma nova forma de disciplinar a remuneração dos Policiais Rodoviários Federais, mas sim a criação de algumas gratificações”.
Processo de referência: EREsp 1.577.881-DF
Informamos aos nossos clientes que, em razão de alteração da Constituição Federal, os juros incidentes sobre créditos constantes de precatório devem incidir até a data do efetivo pagamento pelo ente público devedor (e não até a data da expedição do precatório - procedimento até então adotado).
Diante dessa circunstância, informamos que os clientes do Villar Maia Advocacia e Consultoria, que já receberam precatórios e RPV's, devem entrar em contato conosco para que possamos adotar as medidas cabíveis ao recebimento dos valores devidos em decorrência da diferença de juros incidentes sobre os referidos créditos.
O STJ e a responsabilidade pelo pagamento de débitos relativos a imóvel que compõe a herança
Written by Villar Maia Advocacia e ConsultoriaCom o falecimento de uma pessoa, tem-se, no exato momento da morte, a abertura da sucessão, a qual acarreta a transmissão da herança para os herdeiros legítimos e testamentários, nos termos do artigo 1.784 do Código Civil. Ao assim preceituar, a legislação civil cria uma espécie de ficção jurídica, visto que, sob o ponto de vista estritamente jurídico, no exato momento do falecimento de uma pessoa, a herança transmite-se automaticamente aos herdeiros, sem prejuízo da necessidade da prática dos atos necessários à formalização e efetivação desta transmissão (inventário e partilha).
Nesse contexto, uma vez aberta a sucessão, as despesas relativas aos bens que compõem a herança devem ser arcadas com os valores do espólio (assim entendido, em linhas gerais, o conjunto de bens que irão ser objeto da futura partilha). Essa regra geral parte de um pressuposto simples: não tendo havido partilha, as despesas relativas aos bens que compõem a herança devem ser arcadas por todos os herdeiros, indistintamente, razão pela qual o ônus recai sobre o espólio.
Sucede que, não raras vezes, apenas o inventariante permanece na posse exclusiva de determinado bem que compõe o espólio. Figure-se, a título exemplificativo, o caso de uma viúva, inventariante, que permanece utilizando, com exclusividade, o imóvel deixado pelo falecido. Nestas hipóteses, a regra acima descrita é excepcionada e as despesas relativas ao bem devem ser suportadas, com exclusividade, pela inventariante, porquanto esteja usando-o exclusivamente.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “a utilização do bem de forma exclusiva pela inventariante e sem contrapartida financeira aos demais herdeiros faz com que os encargos referentes ao período posterior à abertura da sucessão se destinem exclusivamente a ela, sob pena de enriquecimento sem causa”.
Para o STJ, “não se mostra razoável que as verbas de condomínio e de IPTU, após a data do óbito do autor da herança, sejam custeadas pelos demais herdeiros, sob pena de enriquecimento sem causa, devendo, portanto, as referidas despesas serem descontadas do quinhão da inventariante”.
Processo de referência: REsp 1704528