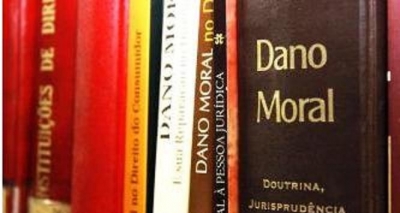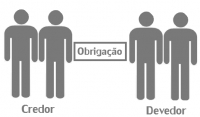Código de Defesa do Consumidor: produtos alimentícios com corpo estranho e dever de indenizar
Written by Villar Maia Advocacia e ConsultoriaA preservação da saúde e da segurança dos consumidores, diante dos produtos e serviços comercializados no mercado, constitui preocupação do legislador brasileiro, tendo sido normatizada em diversos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, seja no que concerne à Política Nacional das Relações de Consumo (art. 4º do CDC), seja no que tange aos direitos básicos do consumidor (art. 6º do CDC), dentre os quais encontra-se a proteção à sua saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos (inciso I do art. 6º).
Discute-se, no contexto das práticas consumeristas que acarretam riscos à saúde e segurança do consumidor, se a aquisição de produtos alimentícios com corpo estranho constitui situação apta a ensejar a configuração de dano moral indenizável.
À luz da discussão referida no parágrafo anterior, o Superior Tribunal de Justiça decidiu caso no qual um consumidor havia adquirido um pacote de biscoito com corpo estranho e, apesar de não ter ingerido completamente o produto, o colocou na boca.
Sobre o tema em questão, decidiu o STJ que o “simples ‘levar à boca’ do alimento industrializado com corpo estranho gera dano moral, independentemente de sua ingestão. No caso concreto submetido à apreciação do STJ, o produto vendido com um corpo estranho, “um anel indevidamente contido em uma bolacha recheada, esteve prestes a ser engolido por criança de 8 anos, sendo cuspido no último instante”.
Como se vê, para o Superior Tribunal de Justiça, ainda que não tenha havido a efetiva ingestão do produto com corpo estranho, o só fato de o consumidor ter colocado o produto na boca caracteriza dano moral indenizável, tendo em vista a exposição à risco concreto à sua saúde e segurança.
Assim, sendo certo que os produtos com corpo estranho acarretam risco concreto à saúde e segurança dos consumidores, resulta caracterizado o instituto do “fato do produto” (também denominado de “defeito no produto”), o qual impõe o dever do fornecedor de indenizar os danos de natureza moral e material experimentados pelo consumidor.
Processo de referência: REsp 1.644.405-RS (Informativo nº. 616, veiculado em 17 de janeiro de 2018).
Crime de violação de direito autoral, na forma do art. 184, § 2º, do Código Penal, pressupõe intuito lucrativo
Written by Villar Maia Advocacia e ConsultoriaA comercialização de produtos falsificados no Brasil, especialmente, de mídias em CD e DVD “piratas”, constitui fato público e notório, sendo frequentemente objeto do noticiário nacional e de reportagens televisivas. A “pirataria” de produtos representa, à toda evidência, violação aos direitos de propriedade industrial e/ou intelectual do criador da obra indevidamente falsificada.
Analisando-se a questão sob o prisma da tutela jurídico-penal, observa-se que o art. 184 do Código Penal tipifica como crime o ato de “violar direitos de autor e os que lhe são conexos”, punindo-o com pena de detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa. Nos parágrafos primeiro e segundo do mesmo dispositivo legal, o legislador criminalizou os atos de reprodução total ou parcial, com intuito de lucro direto ou indireto, de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista ou executante, bem como, também com intuito de lucro, a distribuição, venda, exposição a venda, aluguel ou manutenção em depósito de cópia de obra intelectual sem a expressa autorização dos titulares dos direitos autorais.
Debruçando-se sobre o assunto do presente artigo, a 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em julgamento de caso que envolvia um homem condenado por possuir mais de 100 CDs e DVDs falsificados, adquiridos no Paraguai, decidiu que o crime de violação a direito autoral exige dolo específico consistente no intuito de obtenção de lucro pelo autor do fato.
Para o Desembargador relator, Dr. Rogério Gesta Leal, “o artigo 184, parágrafo 2º, do Código Penal, diz que o crime de violação a direito autoral exige que o agente tenha ´intuito de lucro ´— o que não ficou expresso na denúncia do MP”, vez que “a peça descreve que os CDs e DVDs são de artistas diferentes”.
É de se ressaltar, porém, que essa circunstância (exigência de intuito lucrativo para caracterização do tipo penal descrito no art. 184, § 2º, do Código Penal) não impede a tutela civil dos direitos autorais, contemplada, dentre outros dispositivos, nos ditames das Leis 9.279/1996 e 9.610/1998.
Redirecionamento da execução fiscal prescreve em 5 anos
Written by Villar Maia Advocacia e ConsultoriaNo contexto das execuções fiscais, não raras vezes a Fazenda Pública, exequente, promove o redirecionamento da execução fiscal, fenômeno através do qual requer a inclusão, no curso do processo executivo, dos sócios da pessoa jurídica executada (ou, eventualmente, de terceiros que respondam pelo crédito exequendo) no polo passivo da execução fiscal.
Sucede que o pedido de redirecionamento da execução fiscal, formalizado no curso do processo executivo, pode ocorrer após o decurso de razoável lapso temporal após a instauração da execução em face da pessoa jurídica executada, ensejando a discussão a respeito do prazo dentro do qual o redirecionamento da execução deve ser promovido pela Fazenda Pública.
Debruçando-se sobre a discussão em questão, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, perfilhando a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, decidiu que o redirecionamento da execução fiscal prescreve após o decurso do prazo de 5 (cinco) anos.
De acordo com o pronunciamento do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a citação da pessoa jurídica executada também tem por efeito a interrupção da prescrição em relação à pessoa física dos sócios-gerentes, razão pela qual o redirecionamento da execução fiscal não pode ser aperfeiçoado após o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, porquanto prescrita a respectiva pretensão executiva.
Em conclusão, e levando em conta as peculiaridades fáticas do caso concreto submetido à sua apreciação, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região decidiu que, “tendo em vista que o redirecionamento da execução fiscal pelo INSS ocorreu 10 anos após a citação, conclui-se que ocorreu a prescrição da pretensão da cobrança pela União”.
Processo de referência: nº 0018245-96.2007.4.01.3800/MG
STJ e dano moral por ricochete: possibilidade de familiares de vítima maior pleitear indenização em nome próprio
Written by Villar Maia Advocacia e ConsultoriaNo âmbito da temática relativa à responsabilidade civil, mais especificamente no que concerne às indenizações por dano moral decorrentes da prática de atos ilícitos, doutrina e jurisprudência são firmes no sentido de reconhecer a possibilidade de terceiros, que possuam certos vínculos com a vítima de tais atos, possam formular requerimentos de indenização em seus próprios nomes, ainda que não tenham sido diretamente atingidos pelo ilícito.
Trata-se do chamado dano indireto ou dano por ricochete.
Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça debruçou-se sobre interessante caso que versou sobre pedido de indenização formulado por familiares de um ciclista maior de idade que, não obstante tenha sobrevivido a um acidente, sofreu a perda de um dos braços em decorrência da colisão do veículo em sua bicicleta.
O causador do acidente automobilístico pretendia impedir que os familiares pleiteassem, em seus próprios nomes, indenizações em decorrência do infortúnio acontecido com o ciclista, sob o argumento de ser a vítima maior de idade, plenamente capaz e que já havia ajuizado ação judicial para obter indenização em seu favor.
Para o julgador de primeira instância, perfilhando a argumentação expendida pelo causador do acidente, apenas a vítima, maior de idade e sobrevivente do acidente, poderia pleitear indenização em seu favor.
Ao se debruçar sobre o caso em questão, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que os parentes da vítima também possuem legitimidade para pleitear a compensação em seus próprios nomes, ainda que tenham sido atingidos apenas indiretamente pelo ato ilícito.
Reconhecendo a caracterização, no caso concreto, do chamado dano moral indireto, ou dano moral por ricochete, o Superior Tribunal de Justiça assentou que esta espécie se caracteriza “em casos nos quais, embora o ato lesivo tenha sido praticado diretamente contra determinada pessoa, seus efeitos acabam por atingir, indiretamente, a integridade moral de terceiros, em razão de laços afetivos, constituindo a reparação direito personalíssimo e autônomo desses terceiros”.
Processo de referência: AREsp 1.099.667
INSS não pode cobrar de volta benefício fixado pela Justiça e depois cassado
Written by Villar Maia Advocacia e ConsultoriaNo contexto dos benefícios previdenciários concedidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), parte dos segurados percorrem a seguinte via para a obtenção do benefício: (i) primeiramente, formula-se requerimento administrativo perante a autarquia previdenciária; (ii) em segundo lugar, após o indeferimento do requerimento administrativo, o segurado propõe ação judicial; (iii) o Poder Judiciário, em sede de tutela provisória, defere ao segurado o direito ao recebimento imediato do benefício.
Sucede que, não raras vezes, a decisão judicial que concede ao segurado tutela provisória, após o decurso de lapso temporal considerável, dentro do qual o segurado recebeu diversas parcelas do benefício previdenciário, vem a ser posteriormente reformada ou cassada.
Diante do quadro fático descrito no parágrafo anterior, questiona-se se o INSS detém a prerrogativa de descontar do beneficiário os valores recebidos a título de benefício previdenciário durante o período em que estava acobertado pela decisão judicial que lhe havia deferido tutela provisória, a qual foi posteriormente reformada ou cassada pelo próprio Poder Judiciário.
Debruçando-se sobre o referido questionamento, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o INSS não pode descontar, do beneficiário, os valores recebidos a título de benefício previdenciário por força de decisão que lhe havia concedido tutela provisória.
Para o Superior Tribunal de Justiça, ainda que o art. 115, II, da Lei 8.213/1991, autorize o INSS a descontar dos beneficiários o pagamento de benefício pago em montante além do devido, tal norma, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, não permite que a referida autarquia previdenciária cobre do beneficiário valores por este recebido em razão de tutela judicial.
No sentir do aludido tribunal superior, “o artigo 115, II, da Lei 8.213/1991 não autoriza a administração previdenciária a cobrar, administrativamente, valores pagos a título de tutela judicial, sob pena de inobservância do princípio da segurança jurídica”.
Descumprimento de obrigação alimentar pelos avós não acarreta prisão civil
Written by Villar Maia Advocacia e ConsultoriaDe acordo com a previsão contida no art. 528, §§ 3º e 7º, do Código de Processo Civil, o descumprimento da obrigação alimentar por período superior a três prestações autoriza o credor a requerer, no âmbito da execução da dívida, a prisão civil do devedor pelo prazo de um a três meses.
Trata-se de medida coercitiva aplicável exclusivamente no contexto da execução de alimentos, visto que o credor de dívidas de outras naturezas não dispõe da mesma prerrogativa quando da execução do seu crédito.
Sucede que, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça foi instado a se manifestar acerca da possibilidade de decretação da prisão civil dos avós em razão do inadimplemento de pensão alimentícia devida aos netos.
A esse respeito, decidiu o STJ que o inadimplemento da obrigação alimentar dos avós relativamente aos netos não possui o condão de ensejar a decretação da prisão civil daqueles, visto que, no entender do referido tribunal superior, o procedimento da execução civil da pensão alimentícia devida pelos avós não deve ser o mesmo daquele estabelecido para a obrigação alimentar dos pais.
O STJ consignou que “sopesando-se os prejuízos sofridos pelos menores e os prejuízos que seriam causados aos pacientes se porventura for mantido o decreto prisional e, consequentemente, o encarceramento do casal de idosos, conclui-se que a solução mais adequada à espécie é autorizar, tal qual havia sido deliberado em primeiro grau de jurisdição, a conversão da execução para o rito da penhora e da expropriação, o que, a um só tempo, homenageia o princípio da menor onerosidade da execução e também o princípio da máxima utilidade da execução”.
Vê-se, assim, que o Superior Tribunal de Justiça, ao realizar um juízo de ponderação entre a necessidade dos menores e o prejuízo causado pela prisão dos idosos, inclinou-se no sentido de afastar o encarceramento dos avós, sem prejuízo da possibilidade de penhora e expropriação dos bens destes.
Fonte: STJ
Repercussões da desistência da venda sobre o direito do vendedor ao recebimento das comissões sobre a venda realizada
Written by Villar Maia Advocacia e ConsultoriaDentre as possíveis parcelas a serem recebidas pelo trabalhador encontram-se as comissões, as quais, no contexto das empresas de varejo, geralmente encontram-se atreladas ao alcance de determinadas metas ou à comercialização de determinados produtos, cujo montante é utilizado para o cálculo da comissão a ser paga ao empregado.
Dúvidas há, porém, se a posterior desistência da compra por parte de um cliente tem o condão de afetar a comissão a que o trabalhador faz jus. Em outras palavras, indaga-se se, uma vez computada determinada venda para fins de pagamento da comissão do empregado, a posterior desistência do consumidor-comprador repercutirá no direito do trabalhador ao recebimento da comissão.
Debruçando-se sobre o questionamento lançado no parágrafo anterior do presente texto, o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Brasília decidiu que a posterior desistência do cliente não possui o condão de afastar o direito do empregado-vendedor ao recebimento da comissão que incidiu sobre a venda realizada e posteriormente cancelada.
Com esse entendimento, o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Brasília garantiu a um ex-vendedor de uma empresa de varejo o direito ao recebimento das comissões que deveriam incidir sobre as vendas realizadas, ainda que posteriormente os compradores tenham desistido da operação.
A magistrada em exercício, Dra. Elysangela de Souza Castro Dickel, entendeu que, "uma vez concretizado o negócio relativo à venda do produto pelo vendedor, desde já, ocorre o fato gerador do direito à percepção da comissão respectiva, não sendo de sua responsabilidade posterior desistência ou troca de produto pelo cliente, haja vista que sua função é apenas vender bens e serviços".
Processo de referência: 0000033-90.2017.5.10.0001 (PJe-JT)
Licença-maternidade e estudantes beneficiárias de bolsa de pesquisa
Written by Villar Maia Advocacia e ConsultoriaO ordenamento jurídico brasileiro contempla as trabalhadoras, incluindo-se as empregas celetistas e as servidoras públicas, bem como as adotantes de menores, com licença-maternidade pelo período previsto em lei.
Sucede que, ao lado das categorias descritas no parágrafo anterior, havia dúvidas a respeito da existência de direito à licença-maternidade por parte das estudantes que são beneficiárias de bolsas de estudo concedidas por agências de fomento à pesquisa nos casos de maternidade ou adoção.
A respeito do tema em questão, foi publicada na última segunda-feira, dia 18 de dezembro, a Lei 13.536/17, a qual dispõe, em seu artigo 2º, que “as bolsas de estudo com duração mínima de doze meses, concedidas pelas agências de fomento para a formação de recursos humanos, poderão ter seus prazos regulamentares prorrogados por até cento e vinte dias, se for comprovado o afastamento temporário do bolsista em virtude da ocorrência de parto, bem como de adoção ou obtenção de guarda judicial para fins de adoção durante o período de vigência da respectiva bolsa”.
Por seu turno, prevê o artigo 4º do referido diploma legal que é vedada a suspensão do pagamento da bolsa durante o afastamento decorrente da ocorrência de parto, de adoção ou da obtenção de guarda judicial para fins de adoção.
Vê-se, assim, que as estudantes titulares de bolsas de estudo concedidas por agências de fomento à pesquisa passam a ser contempladas com dispositivo legal expresso que lhes garante o direito à licença-maternidade pelo prazo de até 120 dias, sem prejuízo do recebimento da bolsa, a qual não poderá ser suspensa durante o período do afastamento.
Usuário final de contrato coletivo de plano de saúde pode questionar rescisão unilateral realizada pela operadora
Written by Villar Maia Advocacia e ConsultoriaA contratação dos planos de assistência à saúde, no que concerne à caracterização da contratação, poderá ocorrer mediante contratos individuais celebrados entre o usuário e a operadora de plano de saúde, bem como mediante contratos coletivos firmados entre tais operadoras e determinadas entidades, a exemplo de empresas, associações e sindicatos.
No âmbito dos contratos coletivos de plano de saúde, o instrumento contratual é celebrado entre a operadora e a entidade contratante, de modo que os usuários aderem ao contrato coletivo em razão da existência de um vínculo jurídico com a entidade contratante (assim se dá com os associados de determinada associação ou os empregados de determinada empresa).
Porém, em se caracterizando qualquer causa de implique na rescisão do contrato coletivo, detém legitimidade para requerer a rescisão contratual, via de regra, apenas os sujeitos que firmaram o contrato coletivo de plano de saúde: a operadora de assistência à saúde, de um lado, e a entidade representativa, de outro.
Dúvidas surgem, porém, no que diz respeito à legitimidade dos usuários finais relativamente à discussão da rescisão unilateral do contrato coletivo levada a efeito pela operadora de plano de saúde.
Debruçando-se sobre o questionamento referido no parágrafo anterior, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o usuário final do contrato coletivo de plano de saúde detém legitimidade para questionar a rescisão unilateral do contrato coletivo por parte da operadora, nas hipóteses em que a rescisão seja ilegal ou abusiva.
Para o STJ, “o fato de o contrato ser coletivo não impossibilita que o beneficiário busque individualmente a tutela jurisdicional que lhe seja favorável, isto é, o restabelecimento do seu vínculo contratual com a operadora, que, em tese, foi rompido ilegalmente”.
Processo de referência: REsp 1705311
Prescrição não acarreta a extinção da dívida a ela subjacente
Written by Villar Maia Advocacia e ConsultoriaO ordenamento jurídico brasileiro estabelece que, uma vez violado o direito, nasce para o seu respetivo titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nas hipóteses em que a pretensão não seja exercida nos prazos previstos em lei (art. 189 do Código Civil).
De acordo com a conceituação referida no parágrafo anterior, pode-se afirmar, a título exemplificativo, que o credor de determinado débito vencido deve exercer a sua pretensão dentro do prazo previsto em lei, sob pena de incidência do instituto da prescrição, a qual, como visto, extingue a pretensão que deveria ter sido exercida pelo titular do direito violado.
No entanto, deve-se ressaltar que a consumação da prescrição não acarreta a extinção do débito a ela relativo. Ou seja, consumada a prescrição, o débito que lhe é subjacente permanece existente.
Essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o Recurso Especial nº. 1.694.322, entendeu que a prescrição não atinge o direito subjetivo do credor. Para o STJ, “é inviável se admitir, via de consequência, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo”, afirmou a ministra.
No caso concreto submetido à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, o Juiz de primeira instância havia declarado a prescrição e, por consequência, a inexistência do débito e a quitação de um contrato de promessa de compra e venda. Ao julgar o Recurso Especial interposto, o STJ afastou a declaração de inexistência do débito, sob o fundamento de que a prescrição não acarreta a extinção da dívida.
Processo de referência: REsp 1.694.322
More...
Devolução de criança ao pai no exterior deve ser precedida de perícia psicológica
Written by Villar Maia Advocacia e ConsultoriaA temática relativa à guarda e regulamentação do direito de visitas dos pais relativamente aos filhos menores apresenta acentuada complexidade, especialmente em virtude da circunstância de envolver uma carga sentimental elevada e compreender um elemento psicológico com enorme repercussão na seara jurídica, qual seja, o afeto entre pais e filhos.
No âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, constitui lição basilar aquela segundo a qual o direito de guarda e a regulamentação do direito de visitas são norteados pelo princípio do melhor interesse do menor, devendo os filhos menores permanecer sob a guarda do genitor que reúna as melhores condições para oferecer à prole educação, saúde e desenvolvimento adequados, atribuindo-se ao outro genitor o direito de visita.
A situação se torna ainda mais complexa quando os pais residem em locais diferentes, em virtude da natural dificuldade de regulamentação do direito de visitas daquele genitor que não detém a guarda dos filhos menores.
Em processo que possui relação com a discussão em questão, o Superior Tribunal de Justiça julgou recurso no qual se discutiu o retorno de uma criança de 9 anos para os Estados Unidos da América, local em que reside o genitor e do qual a mãe da menor saiu sem autorização, levando a filha consigo quando a criança tinha apenas 1 ano de idade.
Ao se debruçar sobre o recurso em questão, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que o retorno da criança aos Estados Unidos deverá ser precedido de oitiva da menor e da realização de uma perícia psicológica, a fim de se avaliar o seu estado emocional e averiguar se o retorno ao lar paterno não lhe acarretaria danos psicológicos irreversíveis.
Para o Relator do recurso, Ministro Og Fernandes, a perícia psicológica e a oitiva da menor constituem medidas fundamentais para fins de observância do princípio do melhor interesse da criança, sendo correto afirmar que o interesse da menor deve se sobrepor a qualquer outro interesse.
Para o Ministro Relator, a Convenção sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças, invocada no julgamento do recurso, excepciona a necessidade de determinação do retorno do menor retirado ilicitamente do seu domicílio original, “nos casos em que haja risco grave para a criança”.
Fonte: STJ
Concubina não faz jus à pensão por morte
Written by Villar Maia Advocacia e ConsultoriaA existência de uniões afetivas paralelas ao casamento possui diversas implicações jurídicas, especialmente no que concerne aos aspectos patrimoniais e financeiros que decorrem dos relacionamentos mantidos simultaneamente com a entidade familiar matrimonial.
Nesse contexto, dispõe o art. 1.723, § 1º, do Código Civil, que a pessoa casada, desde que separada de fato ou judicialmente, poderá constituir União Estável. Interpretando-se o mencionado dispositivo legal a contrario sensu, conclui-se que as pessoas casadas que não estejam separadas (de fato ou judicialmente) não podem estabelecer União Estável, sob pena de caracterização de uma relação não tutelada pelo direito de família, o denominado concubinato.
Debruçando-se sobre o tema ora discutido o Tribunal Regional Federal da 1ª Região decidiu que a concubina de um servidor falecido não possui direito a receber a pensão por morte.
É dizer que, de acordo com o entendimento do TRF da 1ª Região, o concubinato constitui fator impeditivo do reconhecimento da União Estável e, por consequência, afasta da concubina o direito à percepção de pensão por morte.
Em síntese assentou o TRF da 1ª Região que, “não havendo a possibilidade de conversão da convivência entre a autora e o instituidor do benefício em casamento, uma vez que ele era civilmente casado e não se logrou comprovar a existência de separação de fato entre ele e a esposa, não pode tal relacionamento ser considerado união estável para fins de percepção de pensão por morte”.
Processo de referência: 0018322-13.2004.4.01.3800/MG
Obrigatoriedade de registro da promessa de compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis
Written by Villar Maia Advocacia e ConsultoriaO artigo 1.225 do Código Civil, ao elencar o rol dos direitos reais, contempla como tal o direito daquele que firmou, na condição de comprador, o contrato de promessa de compra e venda de imóveis.
Por seu turno, o art. 1.417 do mesmo diploma legal estatui que o direito real à aquisição do imóvel, atribuído ao comprador que firmou contrato de promessa de compra e venda, exige o registro do respectivo instrumento contratual no Cartório de Registro de Imóveis.
Dúvidas surgem, porém, quanto às hipóteses nas quais o contrato de promessa de compra e venda não é devidamente registrado perante o Cartório de Registro de Imóveis, especialmente no que concerne à possibilidade de se atribuir ao promitente comprador o direito real à aquisição do bem.
Debruçando-se sobre a temática em questão, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região enfrentou caso no qual determinado comprador, cujo contrato de promessa de compra e venda não havia sido registrado no Cartório de Registro de Imóveis, questionou a validade de negócios jurídicos formalizados após a assinatura da sua promessa de compra e venda, os quais tiveram por objeto o mesmo imóvel adquirido pelo autor da demanda.
Ao julgar o mencionado caso, o TRF da 1ª Região decidiu que, apesar de a ausência de registro do contrato perante o Cartório de Registro de Imóveis não retirar a validade da promessa de compra e venda, esta providência se faz necessária para atribuir ao promitente comprador o direito real à aquisição do imóvel. Para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, caso a promessa de compra e venda não esteja registrada no Cartório de Registro de Imóveis, caberá ao comprador comprovar a má-fé dos terceiros que tenham adquirido o mesmo imóvel após a assinatura do contrato de promessa de compra e venda.
Extrai-se da decisão do TRF da 1ª Região que, não tendo o comprador realizado o registro do contrato de promessa de compra e venda perante o Cartório de Registro de Imóveis, “o seu direito não é oponível contra os terceiros que adquiriram posteriormente os terrenos, os quais, também, aparentemente, agiram de boa-fé, já que não havia como terem ciência da existência do referido contrato, pois é com o registro no Cartório respectivo que o promitente comprador dá a devida publicidade ao negócio jurídico e se previne de eventual negócio jurídico posterior”.
Processo de referência: 0039775-49.2013.4.01.3800/MG
Débitos de natureza não tributária e compensação de ofício
Written by Villar Maia Advocacia e ConsultoriaAo disciplinar as formas de extinção do crédito tributário, o Código Tributário Nacional elenca, ao lado do pagamento e das demais espécies extintivas, a compensação, mecanismo por meio do qual se alcança a extinção de uma obrigação tributária por intermédio do aproveitamento de um crédito mantido pelo contribuinte em face da entidade política que figura como credora desta obrigação.
A esse respeito, os artigos 170 e 170-A do Código Tributário Nacional dispõem que a compensação do crédito tributário pressupõe a existência de prévia previsão legal do ente político detentor da competência tributária.
Sucede que a compensação também constitui mecanismo a ser utilizado pela Fazenda Pública para extinguir créditos titularizados pelo particular (compensação de ofício), hipótese na qual o Poder Público compensa créditos titularizados por particulares com valores devidos em favor da Fazenda.
Questiona-se, porém, se a Fazenda Pública detém a prerrogativa de promover a compensação de ofício nas hipóteses em que o débito do contribuinte não possua natureza tributária.
Ao se debruçar sobre o questionamento referido no parágrafo anterior, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região decidiu em favor da Fazenda Pública, autorizando a compensação de ofício mesmo quando o débito do contribuinte não possua natureza tributária.
Tratou-se, no caso submetido à apreciação do TRF da 1ª Região, de um contribuinte que possuía crédito a título de restituição de Imposto de Renda e, ao mesmo tempo, era devedor da taxa de ocupação de terreno de marinha.
No julgamento de recurso de apelação interposto pela Fazenda Nacional, o TRF da 1ª Região decidiu que a Fazenda Nacional poderia promover a compensação de ofício, independentemente da circunstância de o débito do contribuinte não possuir natureza tributária.
Para o TRF da 1ª Região, invocando entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o colendo STJ, em sede de recurso repetitivo, decidiu que para efetuar a compensação de ofício não se faz distinção quanto à necessidade de que os débitos do contribuinte sejam de natureza tributária ou não, mas apenas assevera a hipótese de débitos do sujeito passivo em relação à Administração Pública Federal para a compensação de ofício”.
Processo de referência: 0006918-82.2006.4.01.3900/PA